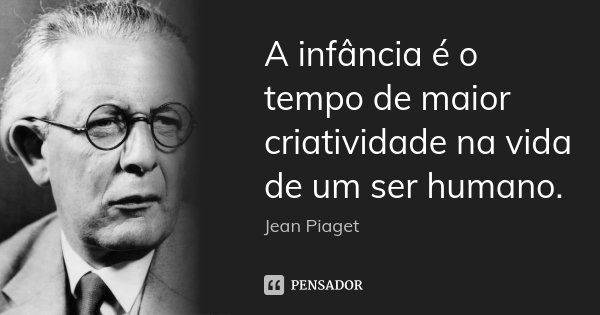As reflexões dessa semana tem como base as leituras e discussões que estamos realizando no Seminário Integrador sobre as teorias piagetianas e o construtivismo. Nessa postagem vou realizar algumas reflexões sobre um texto que gostei muito escrito pelo pesquisador Lino macedo sobre o construtivismo e o não- construtivismo.
O autor no texto: "O construtivismo e a sua função social" escrito em 1993 propõe um exercício
dialético opondo ideais construtivistas e não construtivistas do conhecimento.
Então ele inicialmente apresenta cinco pontos sobre a relação entre
construtivismo e o conhecimento, produzindo contrastes com posturas “não-
construtivistas”.
O primeiro ponto explorado pelo autor
consiste na centralidade que o construtivismo oferece ao sujeito que conhece,
valorizando então suas ações. O contrate para tal posicionamento seria a visão do
conhecimento com a transmissão, valorizando o papel da linguagem. O problema
dessa visão não estaria na linguagem, mas a centralidade que ela ocupa nas
práticas pedagógicas.
O segundo ponto refere-se a produção de
conhecimento que no construtivismo ocorreria numa perspectiva não formal, ou
apenas formalizante. Uma visão não construtivista então se apoiaria numa visão
formal do conhecimento onde o conteúdo só interessa como exemplo ou descrição
de algo que possa ser abstraído do seu contexto. Um exemplo dessa postura
seriam as atividades de alfabetização com cópia de palavras e frases que
possivelmente não fariam sentido fora do contexto escolar. Para o
construtivismo forma e constelado seriam então indissociáveis.
O terceiro ponto aponta que para o
construtivismo o conhecimento é compreendido na perspectiva do tornar-se e não
do ser. O contraste dessa visão de conhecimento parte de uma compreensão
ontológica, ou seja, cuja existência já está constituída e precisa ser
conhecida. Tal compreensão assume uma postura descritiva e explicativa do
conhecimento. Utilizando novamente o exemplo da alfabetização o autor aponta
que em uma perspectiva não construtivista “a criança só saberá escrever no
final do ano, quando tiver repetido o processo de alfabetização, para o
construtivista, a criança já sabe escrever desde o primeiro dia de aula, ainda
que este seu saber conhecerá muitos aprofundamentos”. (MACEDO, 1993, p. 4).
O quarto ponto explorado pelo autor
aponta que o conhecimento só tem sentido para o construtivismo enquanto uma
teoria da ação e não com uma teoria da representação. Para a visão não-
construtivista o conhecimento consiste em uma teoria da representação da
realidade. Em oposição a essa postura o construtivismo opera a partir de uma
noção de conhecimento SOBRE algo. Nessa perspectiva interessa especialmente os
aspectos lógico e matemáticos da ação. Para o autor é lógico “porque se trata
de um sujeito ou uma sociedade construírem ou reconstruírem os procedimentos
necessários àquela produção” (MACEDO, 1993, p. 4). E é
matemático “porque há uma "topologia", uma "álgebra", um
"grupo de deslocamentos" destes estados e posições, sem os quais algo
não acontece, nem se constitui” (MACEDO, 1993, p. 4).
O quinto e último ponto refere-se ao
construtivismo como produto de uma ação espontânea ou desencadeada, mas nunca
induzida. Para Macedo (1993, p. 4): “Esta é a essência do "método
clínico" de Piaget (1926), tão citado quanto incompreendido: saber ouvir
ou desencadear na criança só aquilo que ela possui como patrimônio de sua
conduta, como teoria de sua ação, como esquema assimilativo”.
Após a produção destes contrastes o
autor afirma que: “Adotamos o procedimento de analisar construtivismo e não
construtivismo como duas formas opostas e, por isso, irredutíveis de
conhecimento” (MACEDO, 1993, p. 5). Por tanto tais posturas seriam complementares
e fundamentais.
Para concluir o texto o auto defende
alguns critérios acerca de quais ações poderiam ser realizadas na construção de
uma escola mais construtivista. Para Macedo (1993, p.6) dialogando com Saviani:
“os compromissos antigos da escola com a classe dominante continuam
inarredáveis; ou seja, há fracasso escolar, mas não fracasso da escola em sua
função conservadora dos privilégios dos seus protegidos”. Assim manter a escola afastada do construtivismo
poderia ser uma das razões da escola seguir fracassando em sua tarefa de
ensinar a todos ou garantir a aprendizagem de cada um. Para tanto o pesquisador debate quatro pontos
centrais relacionados com as atividades escolares.
O primeiro tem relação com a postura do
professor que de acordo com Macedo (1993, p. 7):
O professor
construtivista deve saber muito a matéria que ensina. Mas, por uma razão
diferente. Antes, tratava-se de saber bem, para transmitir ou avaliar certo.
Agora, trata-se de saber bem para discutir com a criança, para localizar na
história da ciência o ponto correspondente ao seu pensamento, para fazer
perguntas inteligentes, para formular hipóteses, para sistematizar, quando
necessário.
O segundo ponto explorado por Macedo
(1993, p. 7) tem relação com os materiais de ensino que se constituem como uma
questão central. O autor então aponta para repensarmos a forma como utilizamos
tais materiais, precisamos criar estratégias que nos permitam “inventar” ou até
“viajar” sobre o que está lá proposto. Sejam textos científicos ou literários.
O terceiro ponto refere-se a
disciplina na sala de aula que enquanto uma aula não construtivista exigiria
“silêncio e a contemplação do ouvinte” uma aula construtivista demanda: “ruído
e a manipulação, nem sempre jeitosa, daqueles que, tendo ou aceitando uma
pergunta, não estão satisfeitos com o nível de suas respostas. Pede a “sujeira”
e o experimentalismo de uma cozinha” (MACEDO, 1993, p. 8).
O quarto e último ponto consiste nos
processos de avaliação escolar onde Macedo (1993, p.8) nos lança o
questionamento: “como e por que avaliar a produção escolar da criança?” E aponta que nas perspectivas construtivistas
e não construtivistas essa questão teria uma resposta muito diferente. E se
desejamos uma escola mais construtivista precisamos discutir sobre ela a partir
de novos pressupostos.
Referência: MACEDO, Lino de. O Construtivismo e sua função educacional. Educação e Realidade, Porto Alegre, p.25-31, 01 jun. 1993. 18(1). Disponível em: <https://www.ufrgs.br/psicoeduc/piaget/o-construtivismo-e-sua-funcao-educacional/>. Acesso em: 15 abr. 2018.